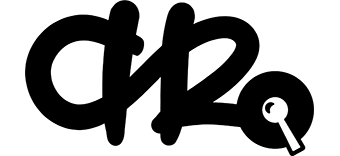AMARI
Amari, conhecida nas ruas como “Amari do grafite” ou “Amari do chinelinho”, nasceu em Nilópolis, mas se reconhece, antes de tudo, como cria de Nova Iguaçu. Ela cresceu em Vila de Cava, região afastada do centro, entre Tinguá, Miguel Couto e Adrianópolis, e só recentemente passou a morar no Centro, num morro em frente ao Bairro da Luz, área mais nobre da cidade. Essa travessia territorial – da borda ao “miolo” – marca a forma como ela enxerga o mundo e como constrói sua arte: sempre a partir da periferia, da rua e das contradições sociais que atravessam a cidade.
Desde muito cedo, Amari se entendeu como artista visual. Começou desenhando o que via no bairro: o tio sentado na calçada, o comércio, as ruas. As letras sempre a encantaram – das faixas de lona de comércio popular aos cartazes de mercado, passando pelo picho e pelo grafite. Ela percebeu que essas letras de rua guiam o olhar das pessoas, mesmo sem que elas percebam, e isso virou um eixo central da sua pesquisa estética. Daí nasce também sua relação com o grafite e com o picho, que ela assume como forma de ocupar a cidade e disputar o imaginário sobre quem tem direito de marcar os muros.
Seu primeiro contato com o hip-hop veio por volta de 2017/2018, quando tinha cerca de 17 anos, frequentando a Roda da Via e, em seguida, a Batalha de Morreba, no Prévia Light. A partir dali, o hip-hop deixou de ser apenas ambiente de lazer com as amigas e passou a ser território de formação política e artística. Amari se encontrou especialmente no elemento do grafite: nunca rimou, diz que “é ruim de rima”, mas entendeu que sua contribuição para a cultura estaria nas cores, nas letras e nas imagens espalhadas pelas paredes da Baixada.
Ela costuma dizer que sua “galeria é a rua”. Apesar de ainda não viver financeiramente do grafite – e afirmar que nunca ganhou dinheiro com esse trampo –, Amari segue pintando por amor, na certeza de que esse investimento coletivo retorna em outras formas de reconhecimento. O hip-hop, para ela, transformou sua relação com a arte: o que antes era um trabalho individual, muitas vezes comercial (faixas encomendadas, por exemplo), virou processo coletivo. O grafite deixou de ser um produto para alguém específico e passou a ser um gesto para todos: algo que se faz junto, ou que se deixa na rua para qualquer pessoa ver, lembrar, se afetar.
Um dos momentos mais marcantes da sua trajetória foi o sarau que organizou quando trabalhava na Atenção Psicossocial da Saúde Mental, em um CAPSi de Nova Iguaçu. Atuando como oficineira, ela trabalhava exclusivamente com arte com crianças e adolescentes em sofrimento psíquico. A “trancos e barrancos”, articulou o primeiro sarau da história do serviço: levou poetas, convidou grafiteiros – entre eles o FML – e promoveu oficina de grafite para crianças e pais. Muitas daquelas crianças nunca tinham segurado uma lata de spray. Ver as mãos pequenas tremendo de animação, grafitando junto, e depois perguntando quando fariam de novo, é lembrado por ela como um dos ápices da carreira. Nesse mesmo contexto, Amari também realizava oficinas de argila e desenho, organizando exposições com as produções dos atendidos.
Outro marco foi sua participação no projeto Educa Hip Hop, a convite de Jota, em uma escola municipal de Japeri. Lá, Amari ministrou oficina de grafite com as crianças, pintando um muro interno da escola durante uma manhã inteira de atividades. O trabalho intenso, com “criança pra caraca”, virou memória afetiva e exemplo de como o hip-hop pode atravessar a educação formal. Esses projetos também reforçam a dimensão pedagógica do seu trabalho: além de artista, Amari é oficineira e educadora popular, articulando arte, saúde mental e educação com a mesma seriedade.
Amari faz questão de pensar o hip-hop a partir de um recorte de gênero. Ela relata a solidão de ser mulher no grafite em Nova Iguaçu, a dificuldade de encontrar outras minas atuando na rua e o incômodo constante com o machismo que atravessa o movimento – não só de autoridades, mas de homens “de dentro” da cena. Sua experiência em oficinas voltadas só para mulheres, com grafiteiras e pichadoras da Zona Norte, marcou profundamente sua visão: ali ficou evidente como a simples presença de corpos masculinos já altera as dinâmicas de poder. Por isso, ela defende espaços exclusivos para mulheres e pessoas LGBTQIA+, e sonha em organizar um grande rolê de madrugada só com minas grafitando, sem nenhum homem “ajudando” ou opinando.
Esse olhar crítico aparece também na forma como ela imagina a cidade e o futuro. Ao se mudar para o morro em frente ao Bairro da Luz, passou a correr pelas ruas, gravar vídeos de corrida na região e observar o contraste entre os aluguéis mais caros da cidade e a vida em vulnerabilidade no morro. Suas corridas, que registra nas redes, são parte de um cuidado rigoroso com a saúde mental – análise, terapia, cuidado médico e atividade física são prioridade. Na arte, ela responde a esse contraste marcando os espaços nobres com pichos e grafites, como um lembrete de que “não são só vocês que existem”.
Uma das marcas mais fortes de sua identidade visual é o “chinelinho”. A partir de desenhos de senhores do bairro usando a clássica Havaiana azul, Amari começou a modelar chinelos em argila, transformando-os em cinzeiros e peças de arte. O chinelo, objeto popular e cotidiano, virou assinatura: está nos seus pichos, nas esculturas, nas pinturas, muitas vezes dialogando com a bandeira do Brasil, ora incompleta, ora em outras cores. É o território no qual se pisa, uma metáfora da vida popular que ela insiste em colocar no centro da tela – ou do muro.